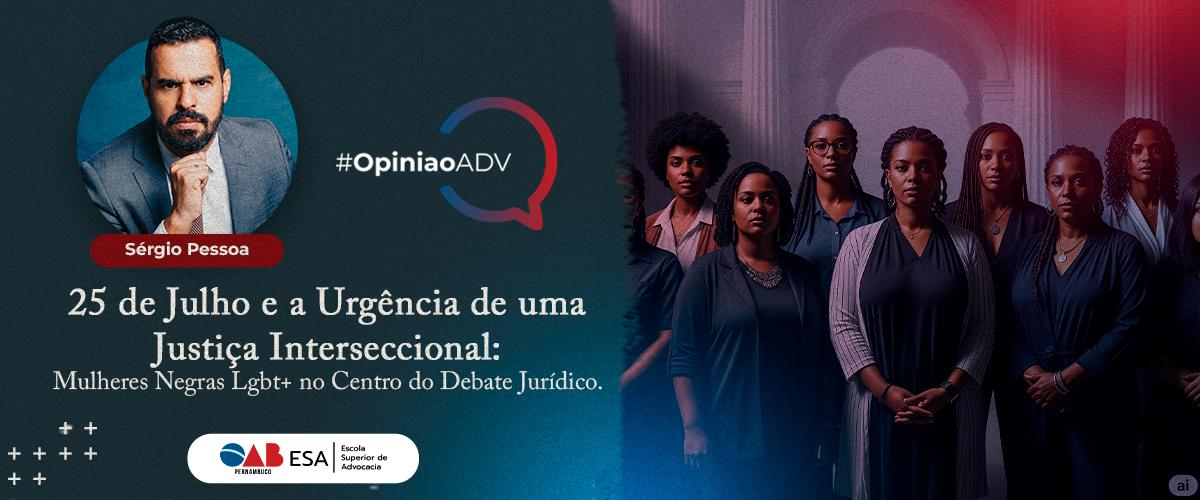
25 de Julho e a Urgência de uma Justiça Interseccional: Mulheres Negras LGBT+ no Centro do Debate Jurídico
Postado em 31/07/2025
Por Sérgio Pessoa - Advogado, Professor Universitário, Presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-PE e Conselheiro da ESA
No Brasil, o 25 de julho – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha – marca a resistência histórica de mulheres que enfrentam o racismo, o sexismo e a exclusão social. Contudo, ao falarmos de "mulher negra", é preciso compreender a pluralidade que existe dentro
desse grupo, especialmente quando olhamos para aquelas que também integram a comunidade LGBT+ — lésbicas, bissexuais, travestis e mulheres trans.
No campo jurídico, esse debate não pode mais ser ignorado. A ausência de um olhar interseccional nos tribunais, nas políticas públicas e na formulação legislativa contribui diretamente para a perpetuação da exclusão e da violência. Em outras palavras, o Direito brasileiro ainda não é capaz de garantir proteção integral às mulheres negras LGBT+, e isso exige uma análise crítica de operadores e operadoras do sistema de justiça.
Segundo o Atlas da Violência 2021 (IPEA e FBSP) revela que 66% das mulheres assassinadas no país são negras. Já segundo a ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), o Brasil segue sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo, sendo que a maioria das vítimas é negra e periférica. Esses dados não são meros números: refletem uma falência estatal em garantir o direito à vida e à dignidade da pessoa humana.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, assegura a igualdade formal e material, e no art. 1º, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. No entanto, a seletividade do sistema penal e o racismo estrutural mostram que tais garantias são, para muitas, mera promessa constitucional.
Criminalização da LGBTfobia: um avanço limitado Em 2019, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e o Mandado de Injunção (MI) 4733, proferiu decisão histórica ao reconhecer a omissão legislativa do Congresso Nacional em criminalizar condutas homotransfóbicas, determinando que, até a edição de lei específica, tais práticas fossem punidas com base na Lei nº 7.716/1989, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. O STF entendeu que a LGBTfobia, ao representar uma forma de preconceito, deveria receber tratamento análogo ao racismo, cuja imprescritibilidade e inafiançabilidade são garantidas pela Constituição (art. 5º, XLII).
A decisão foi saudada como um marco civilizatório — uma tentativa de correção normativa frente ao histórico de violência contra a população LGBT+, especialmente as pessoas trans e negras, que figuram como as maiores vítimas. No entanto, embora importante do ponto de vista simbólico e jurídico, sua efetividade prática encontra entraves estruturais e institucionais que comprometem a realização do direito à igualdade e à proteção contra a discriminação.
Um dos principais problemas enfrentado por essas mulheres é a subnotificação de casos de LGBTfobia, agravada pela falta de tipificação penal direta e pela insegurança jurídica de operadores do direito na aplicação da decisão. Muitos boletins de ocorrência sequer mencionam a motivação LGBTfóbica, seja por despreparo técnico das delegacias ou por resistência ideológica dos agentes. Em consequência, o Judiciário recebe poucos casos formalizados, e os que chegam, muitas vezes, não resultam em condenações específicas por homotransfobia, tornando difícil a construção de jurisprudência sólida.
Essa ausência de dados sistematizados impede também o monitoramento de políticas públicas eficazes, uma vez que o Estado brasileiro não consegue mensurar com precisão a extensão da violência LGBTfóbica — o que compromete seu dever de prevenção e reparação.
O Judiciário brasileiro é composto, em sua maioria, por homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. Isso se reflete em decisões que ignoram a complexidade das vivências de mulheres negras LGBT+, e em julgamentos que reproduzem o racismo, o sexismo e a LGBTfobia, muitas vezes sob o manto da "imparcialidade".
Casos de violação de direitos, como violência doméstica contra lésbicas, violência policial contra mulheres trans ou discriminação em espaços públicos, ainda são tratados com descaso, arquivados sem diligências mínimas ou sequer recebidos adequadamente nas delegacias.
A ausência de uma perspectiva interseccional por parte dos tribunais e das defensorias públicas reforça um ciclo de invisibilidade e revitimização, contrariando os princípios de acesso à justiça e igualdade material previstos na Constituição.
A criminalização, por si só, não modifica as práticas institucionais arraigadas no racismo, no machismo e na LGBTfobia estrutural. É comum que mulheres lésbicas negras, travestis e mulheres trans enfrentem violência institucional no próprio momento de denunciar uma agressão. Delegacias não estão preparadas para recebê-las, e quando o fazem, há frequentes relatos de:
- ? Recusa em registrar o boletim de ocorrência por motivação LGBTfóbica;
- ? Desrespeito ao nome social, apesar da vigência do Decreto nº 8.727/2016, que assegura seu uso no âmbito da administração pública;
- ? Condutas vexatórias, como perguntas invasivas, tratamento desumanizado ou insinuações moralistas;
- ? Negação de atendimento jurídico adequado, especialmente em regiões periféricas onde defensorias públicas estão ausentes.
Tais práticas resultam em revitimização, afastando as vítimas do sistema de justiça e reforçando a sensação de impunidade.
A decisão do STF não estabeleceu um tipo penal autônomo, porém ainda gera dificuldades interpretativas para o Ministério Público e para os magistrados. Em muitos casos, a LGBTfobia é classificada como “injúria simples” ou “ameaça”, sendo desqualificada e desconsiderada sua motivação discriminatória — o que impede o agravamento da pena ou a caracterização como crime de ódio.
Além disso, a ausência de formação específica em direitos humanos e diversidade sexual por parte de juízes, promotores e defensores compromete a aplicação sensível e adequada da jurisprudência do STF. Isso é ainda mais grave no caso de mulheres negras trans ou lésbicas, que enfrentam o duplo estigma racial e de gênero, sendo frequentemente deslegitimadas em suas falas e subjetividades.
A importância da legislação específica e da educação jurídica Ainda que a decisão do STF represente um avanço, é urgente que o Congresso Nacional edite uma legislação específica para tipificar a LGBTfobia como crime autônomo, com definição clara, penalidades proporcionais e mecanismos de investigação e punição adequados.
A exclusão no trabalho, na saúde e na moradia A violação de direitos fundamentais também atinge a esfera social. Segundo dados da ANTRA, cerca de 90% das mulheres trans negras estão na prostituição, não por livre escolha, mas por exclusão sistemática do mercado formal de trabalho. A falta de políticas de inserção laboral específicas e o preconceito institucionalizado impedem que essas mulheres tenham acesso ao direito ao trabalho digno (art. 6º da CF/88).
Além disso, a população trans enfrenta barreiras no acesso à saúde pública, mesmo após a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População LGBT. O preconceito de profissionais da saúde e a escassez de serviços especializados fazem com que muitas mulheres trans negras evitem buscar atendimento, mesmo em situações de urgência.
Na questão da moradia, o cenário é igualmente alarmante: grande parte das mulheres negras LGBT+ vive em situação de vulnerabilidade habitacional, em ocupações ou mesmo em situação de rua — o que configura violação ao direito à moradia digna, previsto no art. 6º da CF/88 e em tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.
O que o Direito pode (e deve) fazer
- 1. Aplicar o princípio da interseccionalidade na interpretação das normas constitucionais e infraconstitucionais.
- 2. Formar magistrados, promotores, defensores e advogados com foco em direitos humanos, gênero, raça e diversidade sexual.
- 3. Ampliar o acesso à justiça com defensorias públicas e delegacias especializadas, bem como núcleos de atendimento a vítimas LGBT+ com recorte racial.
- 4. Fomentar políticas públicas com recorte interseccional, baseadas em dados e indicadores sociais.
- 5. Garantir o uso do nome social e identidade de gênero em todos os espaços jurídicos, com sanções a práticas discriminatórias.
O papel estratégico da advocacia na defesa das mulheres negras LGBT+
Diante das limitações estruturais da aplicação da decisão do STF na ADO 26 e do MI 4733, a advocacia — especialmente a pública e a de direitos humanos — exerce papel essencial na promoção de justiça e no enfrentamento da LGBTfobia institucional. A atuação do profissional do Direito deve ir além do contencioso formal, englobando também dimensões políticas, pedagógicas e coletivas da prática jurídica.
É de responsabilidade da advocacia exigir o uso correto do nome social e da identidade de gênero em todos os atos processuais e administrativos, com base no Decreto Federal nº 8.727/2016, no Provimento nº 73/2018 do CNJ (sobre retificação de nome/gênero), e em julgados do STF e STJ que reconhecem o direito à identidade como expressão da dignidade humana (CF, art. 1º, III).
Em situações de desrespeito por agentes públicos, o(a) advogado(a) pode inclusive acionar a corregedoria do órgão, o Ministério Público ou até a via judicial, a depender da gravidade da violação.
Ao lidar com casos de violência motivada por orientação sexual ou identidade de gênero, é fundamental que a advocacia reivindique o correto enquadramento da conduta como racismo, conforme a jurisprudência vinculante do STF. Isso implica:
- ? Evitar a desqualificação da LGBTfobia como "mero conflito interpessoal" ou "injúria simples";
- ? Produzir e requerer provas da motivação discriminatória (testemunhas, redes sociais, mensagens);
- ? Ingressar com representações, ações penais privadas subsidiárias da pública ou ações civis públicas, quando couber.
Além disso, deve-se exigir que os registros policiais e processuais indiquem expressamente a motivação discriminatória, para garantir dados estatísticos e a correta responsabilização.
A advocacia também pode atuar de maneira coletiva ou estratégica, propondo:
- ? Ações civis públicas ou ações coletivas com base no CDC e na LACP, buscando responsabilização de instituições por práticas discriminatórias;
- ? Requisições de providências administrativas junto a conselhos profissionais, corregedorias ou órgãos de controle (como CNJ ou CNMP), no caso de negligência ou discriminação institucional;
- ? Demandas de políticas públicas, como editais de inclusão no mercado de trabalho, programas de habitação voltados à população trans negra, entre outros.
A atuação junto a movimentos sociais, coletivos, defensorias públicas e núcleos especializados em diversidade também fortalece o impacto da advocacia enquanto agente de transformação social.
Educação em direitos humanos e advocacia antidiscriminatória Por fim, é dever ético da advocacia buscar constante formação em interseccionalidade, direitos humanos e diversidade, conforme preconiza o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94) e os princípios constitucionais da função social do Direito.
A advocacia antidiscriminatória, ao se comprometer com a defesa de populações historicamente marginalizadas, como as mulheres negras LGBT+, atua não apenas como prestadora de serviço técnico, mas como instrumento de resistência e justiça social.
Essa atuação estratégica é um importante contraponto à morosidade e às barreiras institucionais que essas mulheres enfrentam diariamente.
Conclusão: o papel transformador do Direito
O Direito brasileiro não pode seguir operando como instrumento de manutenção das desigualdades. Ele precisa se reestruturar como ferramenta de emancipação, o que exige um compromisso prático com a equidade. Isso passa, necessariamente, por colocar no centro do debate aquelas que sempre estiveram nas margens: mulheres negras LGBT+.
Neste 25 de julho, mais do que celebrar, é preciso agir: criar jurisprudências inclusivas, construir políticas públicas com base em dados reais além de promover justiça com escuta e empatia. Que esse dia não seja apenas uma efeméride, mas um marco de transformação dentro e fora do sistema de justiça.
Envie seu artigo de opinião jurídica para secretaria@esape.com.br, a fim de que seja publicado na seção Opinião ADV do Blog da ESA-PE após conformidade editorial.

